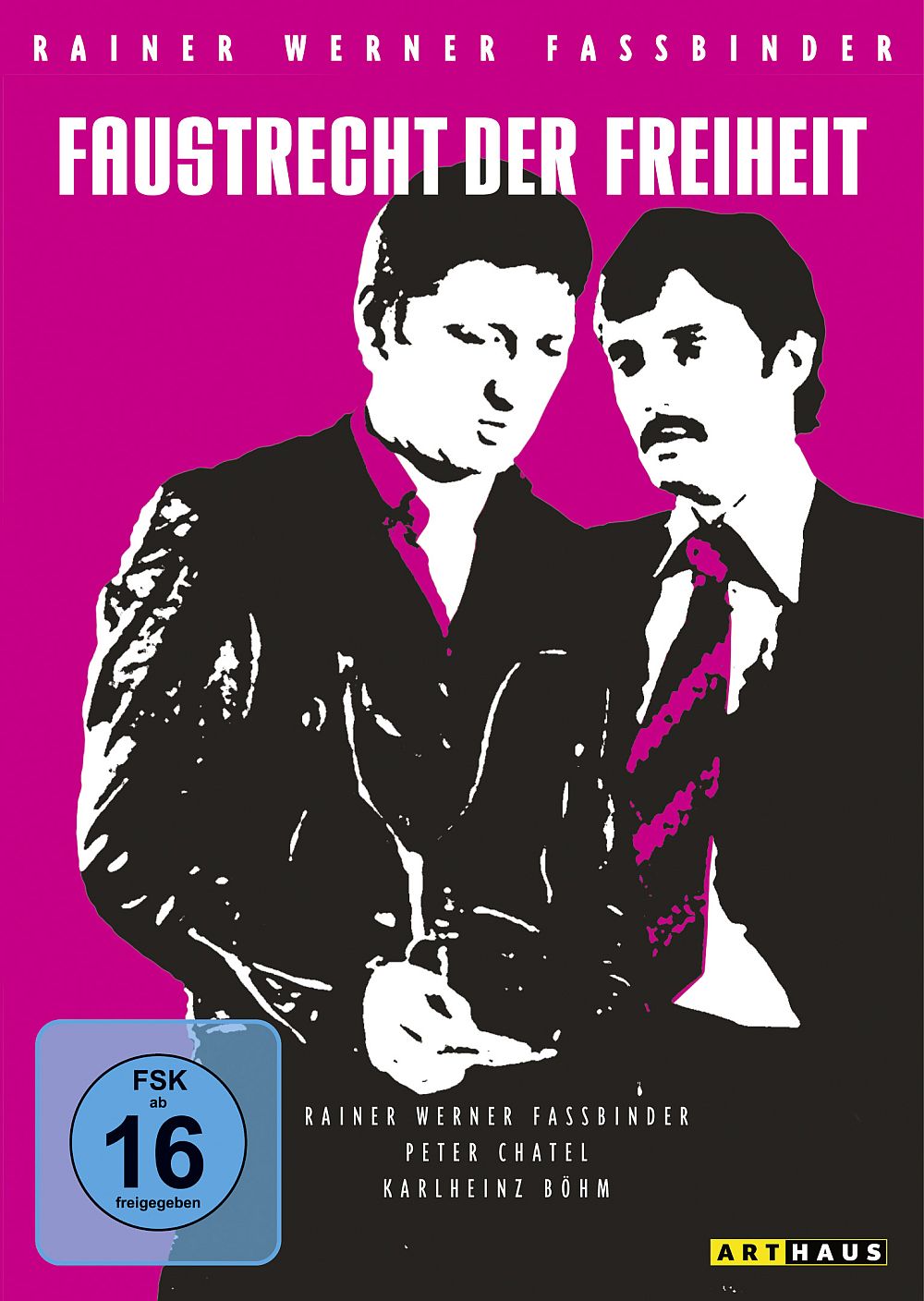Na sequência do Post anterior, decidi fazer o mesmo para o meu último trabalho: Morangos Silvestres, do Ingmar Bergman.
Ficha Técnica:
Realização: Ingmar Bergman
Guião: Ingmar Bergman
Cinematografia: Gunnar Fisher
Elenco: Victor Sjöström (Dr Isak Borg); Bibi Andersson (Sara) ; Ingrid Thulin (Marriane Borg); Gunnar Björnstrand (Evald Borg); Jullan Kindahl (Agda); Folke Sundquist (Anders); Björn Bjelfvenstam (Viktor); Max Von Sydow (Henrik Åkerman)
Ano de lançamento: 1957
País de Origem: Suécia
Cor: Preto e Branco
Idioma: Sueco
Duração: 91 minutosResumo:
Quando Isak Borg (Sjöström), um viúvo, solitário e envelhecido médico atinge o 50º ano desde o início do seu mester, é feita uma celebração em sua honra, em Lund. Marriane (Ingrid Thulin), sua nora, ao saber que Isak vai de carro, decide acompanhá-lo.
Durante a viagem, Marriane não cessa de criticar a conduta do seu sogro. Desde repreensões concernentes ao seu egoísmo e narcisismo a julgamentos quanto á sua insensibilidade e pedantismo, Isak não é poupado.
À medida que a viagem avança, Isak e Marriane começam intimar-se um pouco mais, expandindo a sua relação de sogro-nora a algo mais caloroso. O médico tenta confidenciar-lhe preocupações que o atormentam e decide mostrar a Marriane a casa de férias da sua infância, fazendo um pequeno desvio na rota original.
A partir desta parte a temporalidade do filme divide-se em 3: As memórias de Isak, o presente e a sua consciência.
A sua primeira memória remonta ao tempo em que Isak era jovem e nutria uma paixoneta pela sua prima Sara (Bibi Andersson), com quem estava secretamente enlaçado. Invisível para os figurantes dos seus devaneios, Isak assiste à festa de anos do seu tio Aron (Yngve Nordwall), especialmente aos descuidos infiéis de Sara com o seu irmão [de Isak], Sigfrid (Per Sjöstrand).
De repente, uma voz estranha acorda-o do seu universo interior. Sara (também interpretada por Bibi Andersson), uma rapariga em muito semelhante ao seu primeiro amor (não só no nome), juntamente com dois rapazes - Viktor (Björn Bjelfvenstam) e Anders (Folke Sundquist), pedem boleia até Lund.
A viagem está animada e os Borg estão entusiasmados com a folia dos jovens. Porém, num acto altruísta, Isak oferece boleia a um casal que acabara de sofrer um despiste e uma consequente capotagem. Irascíveis e irritantes, os conjugues Alman (Gunnel Broström e Gunnar Sjöberg) começam a discutir e a bater-se perante os outros viajantes, importunando-os. Marriane, incomodada, expulsa-os do carro e a viagem continua.
Depois de um agradecimento sincero de Herik Akerman (Max Von Sydow), um gasolineiro por quem o Dr. Isak Borg fez muito, e de um vigoroso almoço filosófico, Isak decide visitar a sua mãe, algo que não fazia havia muito.
Aqui o filme volta a passar para outro plano, desta vez o da mente de Isak, que adormece. Depois do primeiro sonho (passado no início do filme mas mencionado apenas agora por motivos de estruturação desta sinopse alargada), em que Isak se vê sozinho numa ruela deserta e desconhecida, totalmente perdido e desorientado, até que aparece uma carroça arrastando um caixão com ele próprio lá metido; o protagonista tem um segundo sonho; este ainda mais perturbador:
O sonho começa com Isak a contemplar, aterrorizadamente, Sara e o seu irmão Sigfrid, já adultos, juntos e felizes. A sua amada diz-lhe que tem de a esquecer e perdoar, deixando os
fantasmas do passado para trás. Subitamente, o ambiente que o circunda muda e encontra-se numa sala de aulas universitária, prestes a fazer um exame, levado a cabo pelo supra mencionado Mr. Alman – um dos conflituosos conjugues. Este exame é feito à sua capacidade de se avaliar a si próprio psiquicamente (metaforizado através de exames médicos a outros pacientes, que Isak faz erroneamente). A conclusão é a de que é incapaz de o fazer. – É inconsciente, tendo, portanto, chumbado. O examinador diz-lhe então que é, entre outras coisas, amotivo, indiferente e egoísta. Citando um excerto da acusação: “Mr Borg é culpado de ter culpa”. Este exame pode também ser interpretado como um “teste” à personalidade de Borg, mas analisaremos isso mais à frente, noutra secção deste trabalho.
Mais tarde o examinador leva-o a assistir à cena que talvez tenha mais marcado toda a sua vida. A infidelidade da sua mulher Karin. Assistimos também a Karin tecer uma panóplia de vitupérios dirigidos ao seu marido, acusando-o de frieza, cinismo e hipocrisia, dando especial ênfase à sua incapacidade de perdoar.
Voltando à realidade, assistimos agora ao paroxismo de intimidade confidencial entre Marriane e Isak.
Primeiro, a nora aceita ouvir os sonhos do sogro (algo que tinha recusado anteriormente). Segundo, Marriane conta-lhe o seu maior segredo: Que esteve grávida e que Evald (Gunnar Björnstrand), o seu marido (um afirmado niilista existencial), a obrigou a abortar, sob o pretexto de que trazer uma criança ao mundo só ia dar mais sofrimento a ele e ao bebé. Marriane, contudo, está ainda grávida, e acompanhou Isak até Lund para dizer ao seu marido que rejeita as suas condições.
Finalmente chegam a Lund e a cerimónia corre como era esperado. É noite de festa mas Isak, dados os seus setenta e cinco anos, tem de se deitar cedo. Despede-se ternamente de Sara e dos seus acompanhantes, perdoa a dívida do filho, libertando-se da fama de avarento e medita sobre tudo o que se passara naquele dia. Fecha os olhos, volta ao seu mundo fantástico onde encontra a meiga Sara que lhe diz: “Isak, meu querido, já não há mais morangos silvestres”. Sorri. Abre os olhos. Morre.
Análise CríticaNesta análise crítica pretende-se focar o filme sob três pontos de vista diferentes:
- Tecer especulações quanto às oscilações gnósticas do realizador, dando principal ênfase às suas crenças, convicções e dúvidas respeitantes a assuntos de cariz esotérico e existencial, através duma análise sintética aos filmes “O Sétimo Selo”, “A Fonte da Virgem” e, mais detalhadamente, “Morangos Silvestres”, dado o seu intimo entrelaçamento temático.
- Interpretar o filme “Morangos Silvestres” dum ponto de vista psicológico, filosófico e explicativo.
- Criticar os aspectos técnicos do filme, ao nível da realização e actuação

Bengt Ekerot (esquerda) e Max Von Sydow (direita) em “O Sétimo Selo”
Cingindo-me aos filmes que vi de Bergman, a primeira questão metafísica que vi o realizador colocar é posta em “O Sétimo Selo”, metaforizada através do jogo de xadrez mais famoso da história do cinema entre Antonius Block (Max Von Sydow, um dos actores fetiche de Bergman, protagonista da Fonte da Virgem e secundário n ‘ Os Morangos Silvestres) e a Morte (Bengt Ekerot). Reduzindo muito aquilo de que o filme trata, a conclusão de Bergman é simples: Independentemente daquilo em que creiamos, do que façamos ou tentemos fazer, a Morte é inevitável. Mais vale conformarmo-nos e aceitar o que nos está predestinado do que suar as estopinhas a tentar combater esse facto. Partindo desta conclusão, Bergman, outrora dúbio quanto à inevitabilidade da morte, pergunta-se “Se vou morrer, como posso fazê-lo feliz, dando sentido à minha vida?” Ou, por outras palavras, “Qual é o verdadeiro sentido da vida?”. Para responder a esta questão analisaremos todo o trajecto de Isak, tanto no seu universo interior como no mundo físico que o envolve, na sua viagem de Estocolmo para Lund.
Logo no princípio do filme, Isak Borg começa por se descrever a si próprio como alguém adverso a relações sociais, o que o fez distanciar-se de qualquer contacto interpessoal, cingindo-se a pouco mais que si próprio. Isak considera-se, portanto, voluntariamente solitário. Assistimos depois a uma parafernália de críticas feitas pela sua nora Marrianne, que, como já vimos, o acusa de egoísmo, avareza, hipocrisia e dogmatismo. Inconsciente de ser tais coisas, o médico interroga-se: “Terá ela razão?”. Apercebendo-se da proximidade do seu fim (vaticinado através de sonhos fatídicos) e ponderando algumas das críticas da sua nora, Isak decide que é necessário redimir-se; Encetar uma odisseia interior com o propósito de apanhar todos os “Morangos Silvestres” da sua consciência, caso contrário não morrerá descansado.
Qual é, então, o primeiro passo a tomar nesta demanda pela redenção? – Sara. Durante toda a sua vida Isak esteve rancoroso para com ela e o seu irmão Sigfrid. Não estará na altura de esquecer… aceitar… perdoar? Isak revê esse triângulo amoroso na amistosa Sara e os seus dois pretendentes – Viktor e Anders, substitutos dos vértices originais Sigfrid e Isak.
Estando a consciencialização do primeiro passo concluída, por onde enveredar de seguida? Não é preciso procurar muito. A instável e conflituosa relação do casal Alman traz-lhe à memória a sua relação com Karin – a sua justificadamente infiel ex-mulher.
Seguidamente, ao fazer uma terceira paragem para visitar a sua envelhecida mãe, Isak redime-se da falta de contacto que havia mantido com ela, e dá outro passo na sua aceitação do casamento Sigfrid-Sara, ao pedir à mãe para lhe dar uma fotografia dele com o irmão.
A grande reviravolta psicológica e emocional de Borg dá-se no seu segundo sonho, pormenorizadamente relatado no resumo acima.
É por esta altura que Isak se começa a aperceber que não foi ele quem se afastou voluntariamente do resto das pessoas, mas o oposto. A aversão era recíproca. Karin traiu-o pela sua frieza, indiferença e hipocrisia, sendo ele o principal culpado pelo desenlace trágico da sua atribulada relação. Sara era jovem e não tinha qualquer tipo de vínculo bem definido com Isak, o que torna inadmissível todo o seu ressentimento e incapacidade de perdão.
Resumindo utilizando citações do filme, Isak falhou no cumprimento da primeira máxima dum médico: “ O principal dever de um médico é pedir perdão”.
Sobre este sonho pode dizer-se ainda um pouco mais, no domínio das interpretações pessoais e subjectivas. Mr Alman, o examinador, pode ser visto, dum ponto de vista católico, como S.Pedro, guardião das portas do céu, que procedia a uma averiguação da idoneidade de Isak para transpor ou não a porta que este guarda. Por outro lado, o examinador pode ser visto como o Super-Ego de Borg, que tenta corrigir os desvios da conduta do protagonista quanto ao caminho necessário a morrer em paz.
À medida que o filme avança, as convicções de Isak quanto ao sentido da vida vão-se transformando. Inicialmente partilhante das ideias do seu filho, de que a vida em si é desprovida de sentido e de que apenas a devemos viver por viver, desfazendo-nos de qualquer tipo de dependências que nos obriguem a vivê-la mesmo quando já não o quisermos (admitindo uma espécie de Niilismo existencial), Isak percebe que a vida deve ter como objectivo o alcançar de uma serenidade interior, um estado mental livre de remorsos e
rancores mas repleto de boas e louváveis memórias. Que o verdadeiro sentido da vida é o de um homem poder chegar ao último dia da sua vida consciente de que ajudou os outros, de que era querido pelos que lhe são próximos (os sinceros agradecimentos do gasolineiro e os amáveis elogios e amistosas declarações da jovem Sara - “Pai Isak, fica sabendo que é a ti que te amo. Hoje, amanhã e para sempre”, bem como o evoluir da sua relação com Marriane; não esquecendo a sua enternecedora relação com Agda, sua empregada, fizeram-no compreender o que era realmente essencial e chegar a esta conclusão), de que é internacionalmente respeitado, de que fez, no fundo, coisas boas, libertando-se das más.
Findando o seu percurso de renovação espiritual ao soltar-se da fama de avarento, perdoando a dívida de Evald, Isak atinge o estado que ambicionara, podendo, finalmente, morrer em paz.
Outro problema presente neste filme é o da existência de Deus, mais tarde abordado pelo realizador em “A fonte da Virgem”.
Através dos personagens Viktor e Anders, Bergman personifica as suas próprias dúvidas quanto a este tópico. A sua inclinação é, contudo, óbvia. Através da posição de Isak e de todo o providencialismo inerente a esta película, o realizador demarca a sua própria opinião. Para além de todas as alusões a Cristo e à religião católica (no seu sonho, Isak fura a mão com um prego, no caminho para a redenção), todas as coincidências ocorridas durante a viagem (aparecimento de uma rapariga idêntica a Sara num caso idêntico ao seu e do seu irmão, de um casal semelhante a Karin e a ele próprio) criam um paralelismo demasiado intimo para ser apenas coincidência, entre a sua viagem espiritual e física [de Estocolmo para Lund]. Essa excessiva intimidade sugere que terá havido uma intervenção divina em todo este dia, como se Deus os tivesse enviado propositadamente para ajudar Isak no seu caminho.
Três anos mais tarde, Bergman volta a este problema na “Fonte da Virgem”, onde se questiona se fará sentido acreditar em Deus quando, mesmo levando uma vida virtuosa e dedicada a Ele, as piores coisas possíveis acontecem. Volta, contudo, a reafirmar a sua posição gnóstica no final do filme, numa deslumbrante cena em que Deus se manifesta milagrosamente perante os protagonistas.

“A Fonte da Virgem”
“Morangos Silvestres”, contudo, não se limita a expor questões filosóficas e psicológicas de forma nua e crua. Há uma componente extremamente heartwarming, até mesmo tocante, do princípio ao fim. Desde a evolução enternecedora da relação entre Isak e a sua nora às discussões amorosas e afáveis entre Dr. Borg e Mrs. Agda, o filme caracteriza-se por uma ternura capaz de sensibilizar o mais frio dos espectadores.
Provavelmente no papel da sua vida (que por acaso foi o último), o actor e realizador sueco Victor Sjöström faz uma das interpretações mais brilhantes e comoventes de toda a história do cinema universal (mais uma vez, cinjo-me ao que vi – apesar das críticas mais exigentes concordarem). A para mim até então desconhecida, embora lindíssima Ingrid Thulin mostra como se pode demonstrar frieza, dramatismo e brandura sem o mínimo de over ou
underacting, no mesmo filme. Gunnar Björnstrand, este já mais característico do espólio habitual de Bergman, faz justiça à predilecção do realizador, demonstrando-se genial.
Quanto aquela que é provavelmente a minha actriz preferida, Bibi Andersson, pouco tenho a dizer. Apesar de lhe lamentar o talvez excessivo dramatismo na encarnação da Sara das memórias de Borg, o seu entusiástico e caloroso papel ao representar a Sara “moderna” redime qualquer erro que possa ter cometido e justifica, desta vez, a minha idiopatia.
Passando para o campo da realização e componente estética do filme, digo apenas que me sinto quase ridículo a tecer julgamentos sobre um dos cineastas mais geniais de todos os tempos. Todo o filme é um exemplo perfeito de mestria técnica e dirigista, e nem a ausência do habitual cinematógrafo Sven Nykvist (substituído com excelência por Gunnar Fisher) tira a perfeição a esta obra-prima.
Provavelmente um dos melhores filmes de Bergman e de sempre.
Nota final: 5/5
Q
 Com algumas cenas oníricas desenhadas pelo próprio Salvador Dali, Spellbound é quase inqualificável em termos de género, dada a mescla de acontecimentos que compõem este elaborado e astuto enredo. De Film Noir, a drama psicológico, a policial, tudo é insuficiente para categorizar esta obra-prima. Só resta mesmo uma palavra: Spellbinding.
Com algumas cenas oníricas desenhadas pelo próprio Salvador Dali, Spellbound é quase inqualificável em termos de género, dada a mescla de acontecimentos que compõem este elaborado e astuto enredo. De Film Noir, a drama psicológico, a policial, tudo é insuficiente para categorizar esta obra-prima. Só resta mesmo uma palavra: Spellbinding.